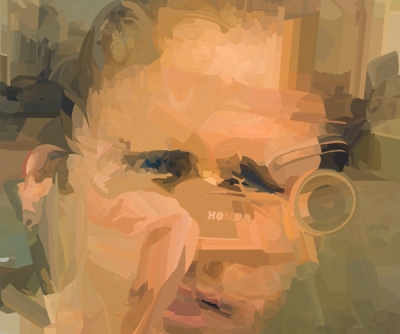“O eucalipto arco-íris (Eucalyptus deglupta) é o único representante da família dos eucaliptos encontrado naturalmente no hemisfério norte, em ilhas da Indonésia, Filipinas e Nova Guiné. A casca exterior cai anualmente em diferentes épocas, deixando aparecer o verde claro da parte interior, que vai escurecendo gradualmente resultando em tons de azul, roxo, laranja e marrom até amadurecer completamente. O resultado é o tronco multi-colorido do eucalipto arco-íris, que mais parece uma pintura.”
Vi no bocaberta.org.
Monthly Archives: May 2010
Árvore colorida
Filed under Uncategorized
House Gehry
Filed under Uncategorized
The Sound and the Fury
“They aint no luck on this place.” Roskus said. “I seen it at first but when they changed his name I knowed it.”
Filed under Uncategorized
Arte e pachorra
Pintar a Capela Sistina é coisa de principiante
por Bruno Moreschi
publicado na revista piauí (05/10)
Cadu não hesitou. Ao receber o convite para participar da sétima Bienal do Mercosul, pensou grande. Mais precisamente, imenso. O evento, que aconteceu em Porto Alegre entre outubro e novembro do ano passado, receberia o maior projeto que o artista plástico de 32 anos já concebera.
Assim foi. Os espectadores que encerravam a visita – maravilhados ou furiosos com a curadora Laura Lima, cujas convicções sobre o fato artístico autorizavam-na a despejar um caminhão de areia nos galpões da Bienal – iam para o estacionamento, ligavam o carro e partiam em plena meditação estética, sopesando os destinos da arte contemporânea. Mal sabiam que a arte continuava com eles, bem embaixo dos pneus. Estavam prestes a atropelar a obra de 70 metros matutada por Cadu.
Não estivessem eles tão absortos no encantamento ou na indignação com o que acabavam de ver, perceberiam que ao sair do estacionamento, logo ali no início da pista, teriam de se haver com 800 redutores de velocidade, daqueles que brilham no escuro e fazem o automóvel tremer. Os mais distraídos certamente encararam esse exagero de obstáculos como uma afronta ao balanceamento do carro. Entretanto, a ouvidos mais afinados com as estratégias da arte contemporânea, o efeito se impunha rápido – e sublime. Os 800 obstáculos produziam bem mais do que solavancos e tremeliques. A cada sete redutores vencidos, formava-se nos ares uma bela frase musical: Pã-pã-pã-pã-pã… Tã-tã!
Deu trabalho produzir Flat Sounds. Dois engenheiros de trânsito foram contratados pela Bienal para desenvolver um programa de computador que ajudasse Cadu a calcular a velocidade média de um veículo naquele trecho, e indicar a posição exata de cada obstáculo no asfalto. Os carros fizeram o resto. Não raro, estetas mais empolgados deram marcha à ré para fruir a obra uma segunda vez. Cadu, orgulhoso, expande seu sentimentos: “Foram seis meses de muito esforço. Tudo para uma obra que dura segundos!”
Ele começou a virar artista ao se inscrever num curso de artes do Parque Lage, escola do Rio Janeiro onde hoje é professor. Tinha então 14 anos. Desde cedo dispensou o “Carlos Eduardo” do prenome e mesmo o “Costa” do sobrenome. Quando assina uma obra, é Cadu e pronto. “O motivo é simples”, explica. “Eu sou apenas mais uma peça das minhas obras. Não gosto dessa coisa de artista cheio de ego que se acha essencial para o mundo.”
As invenções artísticas de Cadu são pouco convencionais e costumam custar caro para virem à luz. Foi em 2001 que ele começou a chamar a atenção da crítica, ao produzir desenhos com canetas esferográficas fixadas em carrinhos movidos a pilha. Em outra ocasião, contratou uma transportadora para despachar caixas de madeira da sua casa até o local onde elas seriam expostas. Dentro de cada caixa ia um sismógrafo com grafite. Cada solavanco da estrada virava um rabisco numa folha de papel. Ao chegar a seus diferentes destinos – museus e galerias de Paris, Londres e São Paulo -, a obra estava pronta: um desenho feito ao sabor do acaso.
Em outubro do ano passado, Cadu construiu uma máquina sonora e a expôs na galeria Vermelho, em São Paulo. Primeiro, reuniu todos os números premiados em dez anos de Mega-Sena, cerca de mil jogos ao todo. Então picotou os números vencedores e colou umas às outras as cartelas furadas, criando uma longa bobina que passou a ser lida por uma caixinha de música artesanal, à moda das antigas pianolas. A composição se chama Hino dos Vencedores.
Nada, porém, representou tanta dedicação à arte quanto a obra 12 Meses. A ideia veio da observação detalhada de contas de luz, as do próprio Cadu. Como Michelangelo olhando para o bloco de mármore, ele intuiu que ali havia mais do que o olho enxergava. E não era o David. Durante um ano, de abril de 2004 a abril de 2005, na maior surdina, Cadu controlou o consumo de energia elétrica de sua casa. Nem a namorada soube. Sua intenção era desenhar com os riscos do gráfico de consumo que vem nas contas. Cadu se propôs fazer um V – forma exatamente oposta à curva de seu próprio consumo médio ao longo de um ano, ele que não usa ar-condicionado no verão mas abusa do chuveiro elétrico durante o inverno.
Cadu pediu ajuda a um funcionário da Light, cuja incumbência era lhe dizer como andava o consumo no mês. Se estava baixo para os seus propósitos gráficos, ele voava para o chuveiro e deixava a água quente correr pelo tempo indicado por cálculos meticulosos. Se o consumo estava alto demais, a solução era banho gelado, cerveja quente e ventilador desligado. No fim das contas – literalmente, no caso -, a ponta do V tomou a forma de um vale, não de uma escarpa, mas isso não impediu que a obra fosse recebida com louvor em museus e galerias de São Paulo e do Rio e – misteriosos são os desígnios da arte – num centro cultural na cidade inglesa de Plymouth.
Agora, em pleno uso das luzes de sua casa, bem como das delícias da geladeira e do ventilador, Cadu vai dar adeus a tudo isso para elaborar sua obra mais radical. “Quero me isolar do mundo. Será por seis meses ou um ano, ainda não sei.” A inspiração vem do grande Henry Thoreau, poeta americano que, aos 28 anos de idade, construiu com as próprias mãos uma cabana em que residiu por exatos dois anos, dois meses e dois dias – segundo ele, “para sugar o tutano da vida”.
Cadu, ao longo de seu isolamento, também pretende sugar o que estiver à mão e produzir arte em abundância. Não tem noção de como construirá a cabana, mas sabe ao menos para onde se retirará: o matagal da chácara de um amigo em Friburgo, na serra fluminense. Ele explica: “Quero experimentar o tempo de outra forma” – ótima ideia cujos frutos não resultarão menos que excelentes. Torçamos apenas para que seja tolerante com a natureza e não sequestre o canto dos passarinhos para melhorar seus gorjeios.
Filed under Uncategorized
Captou nossa mensagem?
por Bruno Moreschi
publicado na revista Vida Simples (04/10)
Em 2000, uma mancha verde invadiu um dos rios que atravessam Estocolmo. Por quase uma hora, os pedestres e os motoristas nas margens não sabiam o que pensar. Alguns entraram em pânico achando tratar-se de um ataque terrorista. Outros gargalharam. E os jornais da capital sueca, na ânsia de tentar acalmar a população, publicaram a versão oficial do governo de que o episódio fora causado por algas marítimas. Bobagem. Dias depois, todos ficaram sabendo que o responsável foi o dinamarquês Olafur Eliasson, um dos mais respeitados artistas plásticos vivos, o mesmo que oito anos depois criaria quatro cachoeiras artificiais e transformaria por cinco meses a paisagem de Nova York.
Mas por que manchar na surdina um rio com pigmento colorido não-poluente? Eliasson responde por e-mail: “O rio estranhamente verde fez com que as pessoas enxergassem o mundo de uma outra maneira.” Com somente uma frase, o artista resumiu uma das sensações mais ricas que as artes plásticas podem oferecer a seu público: um novo olhar diante das coisas.
Muita gente afirma não gostar de artes plásticas, porque não entende nada de pintura, escultura e, principalmente, de manifestações artísticas contemporâneas como a de Eliasson. Mas a verdade é que não é preciso integrar uma seita de pessoas cultas para apreciar uma boa obra de arte. Trata-se de uma questão de postura. Que tal aceitar o fato de que a arte é algo inexplicável? Algo em aberto para as mais diversas interpretações, que não combina muito com taxativos sim e não? O mundo das artes plásticas é das nuances. E, por isso mesmo, fundamental em nossa vida.
O olhar
Observar o que algumas pessoas reparam durante uma exposição é deparar com uma das posturas mais comuns em um museu: a obsessão por entender completamente a obra de arte, antes mesmo de apreciá-la. Esses visitantes parecem afoitos em achar a etiqueta pregada na parede que informa o título e o autor da peça. Assim, esquecem-se de simplesmente fitar a obra e, por sua conta e risco, responder do que trata o trabalho.
Teixeira Coelho, curador do Museu de Arte de São Paulo, o Masp, confundiu um pouco esse tipo de público. Ele não chegou a tirar as informações das obras expostas no museu, mas transformou completamente a ordem em que os trabalhos do acervo são mostrados. Até o ano passado, os quadros e esculturas do Masp eram divididos de acordo com a data de feitura e a nacionalidade dos pintores. Hoje, a coleção está em áreas temáticas muito mais amplas. Por exemplo, uma parte é destinada a retratos, outra a temas ligados a mitologia.
O efeito é curioso: um vaso grego de 330- 320 anos antes de Cristo é vizinho de uma tela moderna de 1874 do francês Édouard Manet, ambos na seção A arte do mito. “Foi uma decisão pensada para fazer com que o visitante faça relações muito mais complexas entre os quadros que simplesmente o período histórico”, diz Coelho. Sorrindo, ele completa: “Gostaria muito que minha última curadoria no Masp fosse uma sala imensa com só uma tela exposta. Quem sabe, dessa maneira, as pessoas poderiam concluir que melhor que ver uma exposição gigantesca e cansativa é observar com calma um único trabalho”.
A ideia de Coelho trata de uma questão importante: o tempo de observação que uma obra de arte necessita para ser mais bem compreendida. Olhar rapidamente um trabalho e de imediato concluir se ele lhe agrada não é necessariamente uma atitude reprovável – até porque não existe uma postura única e certa para o visitante de uma exposição. Mas ver um trabalho de arte sem pressa pode causar boas surpresas. Experimente fitar com atenção os olhos da Mona Lisa do pintor italiano Leornardo da Vinci e afirmar com precisão em que direção eles apontam. Ou tente memorizar as múltiplas criaturas que aparecem numa única tela do flamengo Hieronymus Bosch. Você certamente não conseguirá.
É por causa dessa característica de ser inesgotável que fica impossível entender 100% uma obra de arte. E, para os teimosos que tentam colocar um ponto final nas questões que um trabalho artístico pode levantar, a chegada será provavelmente a sua própria ignorância.
O artista e crítico de arte Fernando Cocchiarale, que já deu cursos com o sugestivo título “Quem tem medo da arte contemporânea?”, acredita que uma obra de arte possui funções muito mais sensoriais que a de simplesmente ser entendida num discurso escrito ou falado. Ele explica: “A reivindicação de um entender fácil e objetivo é quase sempre uma resistência diante das sensações que uma obra pode causar. No fundo, quem acha que um trabalho precisa ter uma explicação completa está simplesmente se recusando a experimentá-lo como arte.”
Em Porto Alegre, Maria de Oliveira, de 29 anos, é das pessoas que enxergam uma obra como algo muito maior do que apenas uma peça a ser explicada. Uma vez por semana, ela almoça um pouco mais rápido do que o habitual. Dessa maneira, aproveita parte da uma hora de intervalo que o banco em que trabalha lhe oferece para ir ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Maria costuma ficar num completo silêncio diante de No vento e na terra, uma tela de 1991 pintada por Iberê Camargo. Trata-se de um trabalho bastante dramático, em que o traço violento típico do artista plástico gaúcho produz a imagem de um garoto caído, talvez morto, num fundo azul-escuro. “Não sei bem o motivo de esse menino estar no chão. Só sei que a imagem é muito forte para mim.” O tempo que Maria já despendeu com a tela não é uma tentativa em decifrá-la por completo. “Posso ficar o resto do dia olhando e vou continuar na dúvida. Gosto dessa pintura por isso.”
O contexto
Alguns insistem em afirmar num tom pejorativo que “museu é lugar de coisa antiga”, como se o local fosse um cemitério de obras ultrapassadas. Sobre isso o crítico de arte italiano Giulio Argan escreveu: “A arte do passado não é um problema do passado, mas do presente.” Ele não poderia estar mais certo. A Leiteira, uma das telas mais excepcionais do holandês Johannes Vermeer, foi pintada entre 1657 e 1658. Quatro séculos depois, ela continua bastante atual. A maneira graciosa com que a moça de touca branca derrama o leite numa vasilha trata do valor edificante do trabalho. E os pequenos cupidos desenhados nos azulejos do canto inferior direito da tela sugerem que ela esteja apaixonada, uma sensação que você provavelmente já sentiu.
Mas e a relutância em aceitar as múltiplas manifestações da arte contemporânea? Um dos maiores preconceitos para com ela vem do fato de várias pessoas não verem a arte de hoje com os olhos de hoje. Uma das obras mais conhecidas do artista plástico brasileiro Cildo Meireles são garrafas de Coca-Cola. Dois detalhes precisam ser observados antes que alguém afirme que isso não pode ser arte. Cildo escreveu nos rótulos das bebidas a frase
“Yankees, go home!”. Em seguida, devolveu as garrafas de vidro para circulação. Por fim, a obra foi produzida em 1970, período em que o Brasil vivia uma ditadura militar, se não apoiada, pelo menos vista com complacência pelo governo americano. Naquele momento, produzir arte numa garrafa de Coca-Cola era algo pertinente e cheio de significado.
Um outro exemplo ainda mais recente confirma que uma obra de arte é o retrato da época em que foi produzida. Em setembro de 2008, o inglês Damien Hirst causou polêmica ao vender na casa de leilões de arte Sotheby’s, em Londres, um conjunto de 223 obras de sua autoria. Uma delas era um símbolo completo de fanfarrice: um bezerro com chifres de ouro dentro de um tanque com silicone e formol. O leilão superou as expectativas e os trabalhos foram vendidos a 111 milhões de euros. Detalhe: ao não receber o auxílio de nenhum galerista para a comercialização, Hirst ficou com todo o dinheiro da venda.
O episódio aconteceu dias antes da falência do banco norte-americano Lehman Brothers, que culminou na crise econômica que se reflete até hoje. A maioria dos críticos de arte concorda que os animais em formol do artista são de mau gosto. Mas tanto eles como alguns economistas consideram que o conjunto das obras de Hirst e sua venda milionária foram o último símbolo de ostentação de um mundo que muito provavelmente não será mais o mesmo. Com essa visão mais ampla, a arte de Hirst ganha um contexto muito mais interessante que uma simples questão de gostei ou não gostei. E nos mostra que, para compreender uma obra de arte, é preciso analisar o contexto em que ela se insere.
Mesmo assim, muitas vezes uma obra de arte contemporânea pode não nos surpreender por estar num espaço inadequado. Assim como uma ópera precisa de um teatro com boa acústica, as artes plásticas também necessitam de um cenário. Para a arte de hoje, o museu tradicional nem sempre é o local ideal. Grande parte da produção artística atual precisa de muito mais que uma parede ou uma sala branca para ser exibida.
O espaço criado até hoje mais propício para a arte contemporânea fica no Brasil, mais precisamente em Brumadinho, uma cidade mineira de quase 34 mil habitantes e localizada a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte. Ali está o Instituto Inhotim, com 97 hectares de mata nativa e mais de 500 obras produzidas de 1960 até os nossos dias. Dentre elas, um imenso trator carregando um tronco de árvore branco, do artista norte-americano Matthew Barney. O trabalho fala sobre a destruição do meio ambiente e não poderia estar num lugar mais propício: no alto de um morro aonde o visitante chega com a ajuda de um carro elétrico dirigido por um dos funcionários do local. “Museus convencionais muitas vezes só podem colecionar ilustrações ou fragmentos das obras contemporâneas”, afirma Rodrigo Moura, um dos curadores do Inhotim. As palavras de Moura lembram as do artista Hélio Oiticica, que também tem obras no acervo da instituição e sempre questionou a arte mais tradicional. Ele dizia: “Já se vê que a velha sala de museu não dá mais pé”.
O ganho
A arte não cura os males, não opera milagrosamente nas nossas mentes, tampouco nos deixa mais cultos da noite para o dia. Mas o exercício imaginativo que ela nos oferece faz um bem fundamental – e o bem aqui não é sinônimo de apenas contentamento, já que uma obra de arte pode nos causar angústia.
Argan, o mesmo crítico que nos fala que a arte do passado nos pertence, explica: “A arte é indispensável para quem se dedica aos estudos históricos e literários, mas é também útil aos futuros técnicos de uma sociedade tecnocrática, pois poderá lhes servir para não cultivar o fetichismo da máquina e não perder o gosto pela invenção, que nasce da crítica, do julgamento e da vontade de superar o passado”. Em palavras mais pueris, um mundo sem as experimentações vistas nas artes plásticas é um mundo menos humano. Talvez isso seja a única coisa que realmente precisemos entender quando observamos uma obra de arte.
Filed under Uncategorized
Museu é o Mundo
Uma mostra em São Paulo segue à risca as orientações deixadas por Hélio Oiticica. E prova por que ele é um dos nomes mais importantes da arte do século 20
Por Bruno Moreschi
publicado na revista Bravo! (04/10)
O carioca Hélio Oiticica (1937-1980) morreu há três décadas, mas suas ideias sobre arte nunca foram tão pertinentes. A prova disso é uma cena vista na abertura da exposição sobre o artista, no Itaú Cultural, em São Paulo. Um visitante de vinte e poucos anos ajoelhou-se diante de Mergulho do Corpo, uma caixa d’água apresentada como obra entre 1966 e 1967. Sem rodeios, o rapaz enfiou a cabeça no recipiente e voltou com os cabelos molhados. Em seguida, lançou um berro alegre. O convite para que o público interaja com as peças é pedra de toque da produção contemporânea. Oiticica pedia isso há quarenta anos.
A mostra permite que se acompanhe a trajetória de um artista que começou tímido para depois se tornar um questionador ferrenho do status quo da arte. A calmaria, se é que pode se chamar assim algum período de seu legado, fica concentrada no primeiro andar. O espaço exibe pinturas e relevos feitos quando ele convivia com o Grupo Frente, liderado por Ivan Serpa (1923-1973), um dos precursores da abstração geométrica no Brasil. Já os dois andares subterrâneos do prédio da avenida Paulista revelam o que Oiticica criou de mais magistral. Lá estão os parangolés – emaranhados de panos para serem usados pelo público -, o famoso tecido de 1968 em que Oiticica estampou a frase “seja marginal, seja herói”, além de instalações famosas como o penetrável – instalação em que o público é convidado a entrar – Tropicália, que deu nome ao movimento cultural que marcou profundamente a arte brasileira.
Um dos grandes méritos da individual é que tudo o que está lá segue exatamente as instruções de Oiticica. O artista deixou anotações detalhadas sobre quase todos os seus trabalhos. Sua intenção era que sua obra pudesse ser recriada quantas vezes fossem necessárias. Os curadores Fernando Cocchiarale e César Oiticica Filho, sobrinho do artista, respeitaram todas as orientações.
Uma exposição rigorosa e bem produzida assim é um alívio depois do incêndio ocorrido em outubro no ano passado na casa do irmão do artista. Na ocasião, o fogo destruiu cerca de 30% do total de obras guardadas na residência e chamou a atenção para o fato de um conjunto de valor histórico inegável não estar em um museu. A família de Oiticica garante que gostaria de colocá-las num espaço público à altura de sua importância. Até agora, no entanto, não há previsão para que isso aconteça. Enquanto isso, Oiticica continua admirado no exterior. Em dezembro do ano passado, um vídeo do artista com um de seus parangolés lotava uma sala no museu espanhol Centro de Arte Reina Sofía. Herói no exterior, marginal no Brasil.
Filed under Uncategorized
Go folks
I’m not leaving, I ain’t going… you never asked me to! So I’ll sit and smile here with you, like I never thought I’d do. Wash the walls and paint the windows, polish face and shave the shoe. I got gal and I got friends, like I never thought I’d do. I never thought the sun would rise in the east and set in west; I figured I owned just dark skies and that darkness ft me best. Here I is, all thin and balled-up, wrapped up in a coat of you. I ain’t hemmed-in, I ain’t walled-up; I am free and I’m loving you. I can snooze and I can amble. I can jump when you say “boo.” Freedom is a hard-won gamble; so is holding things like you. My chest swells and my nose snores; it’s all okay by you. I’ve never felt this welcome before… I’d a never thunk, would you? Serves one right. No need to think. It will all be laid before us, and god will guide us to our graves, smiling, singing: Go folks! Go forth! Go folks! Trust your brain! Trust your body!
[Go Folks, Go – Bonnie ‘Prince’ Billy]
Filed under Uncategorized